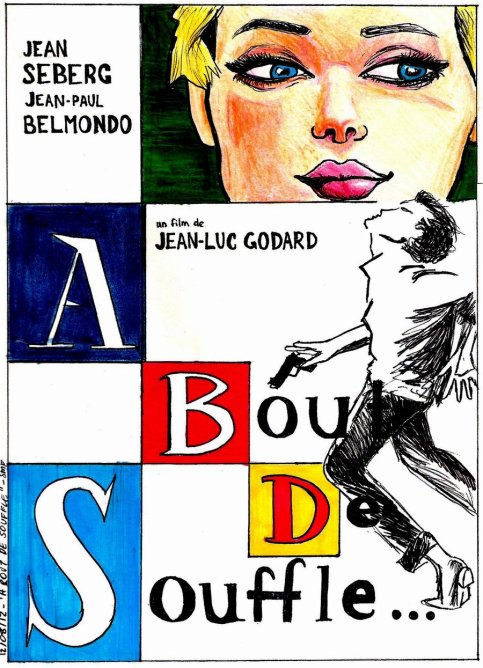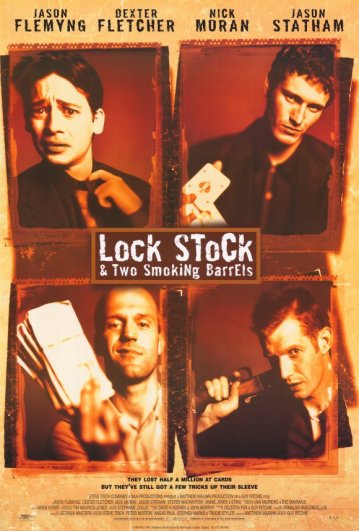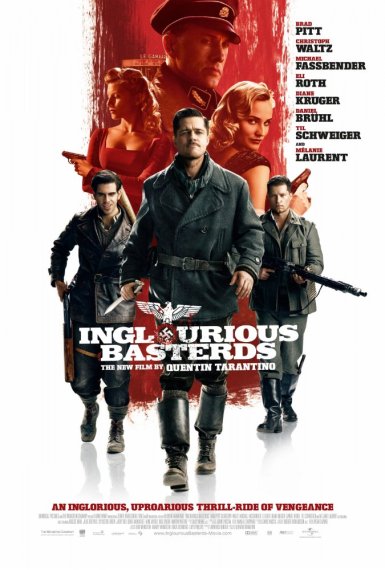Por Gustavo Lucas
O filme “Inimigo Público” (Public Enemy, 1931) foi pioneiro – junto com “Alma no Lodo” (Little Caesar, 1931), do mesmo estúdio, a Warner Bros, lançado poucos meses antes – de um gênero cinematográfico que veio a obter muito sucesso durante a Depressão Americana (anos 1930), o dos filmes de gângster. Apesar de pioneiros, estes filmes não trouxeram nada de inovador em relação à técnica ou à narrativa do cinema da época, ainda mais nesse período de crise econômica, já que experimentações custam dinheiro e não garantem retorno financeiro. O crédito fica mesmo pelo assunto abordado e a centralização da história na figura de um criminoso.
“Inimigo Público” foi produzido em sua maior parte nos meses de janeiro e fevereiro de 1931, e lançado em 23 de abril do mesmo ano. A partir do romance Cerveja e Sangue (Beer and Blood), de John Bright, que junto com os roteiristas, Kubec Glasmon e Harvey F. Thew, adaptaram a história para a tela. Para dirigir o filme, o produtor Darryl F. Zanuck, um dos pioneiros da grande indústria americana, escolheu William A. Wellmann. Este era um diretor experiente, com uma filmografia de mais de vinte películas, realizadas em cerca de dez anos, entre os quais “Wings”, ganhador do Oscar de melhor filme em 1928.
Com um custo de 151 mil dólares, “Inimigo Público” mostra a vida do criminoso Tom Powers, interpretado por James Cagney. A história começa em 1909, com Tom e seu amigo Matt Doyle praticando seus primeiros furtos para um homem conhecido como Putty Nose (Murray Kinnel) e seu relacionamento distante com o pai, um policial. Depois, em 1915, eles são abandonados por Putty em meio a um assalto malsucedido, o que os leva a saírem da vida de crimes por uns tempos. Mas quando a Lei Seca entra em vigor em 1920 – proibição da venda de bebidas alcoólicas que se estenderia até 1933 – Tom e Matt (Edward Woods) começam a contrabandear cerveja e, a partir de então, vão ficando cada vez mais ricos e influentes.
O título do filme não remete diretamente ao protagonista, mas sim ao que ele representa para a sociedade, ou seja, uma ameaça.
O filme retrata bem a figura do criminoso inescrupuloso que viu na Lei Seca uma oportunidade de fazer dinheiro através de atividades ilegais, tornando-se assim uma grande ameaça para as autoridades.
E James Cagney foi uma excelente escolha para viver Tom Powers, fazendo do personagem uma pessoa totalmente impulsiva e imprevisível, como na cena do café da manhã, na qual ele “espreme” uma laranja na cara de sua namorada. O físico do ator também proporciona uma certa dinamicidade devido à sua pequena estatura, compondo o tipo baixinho nervoso.
A Grande Depressão Americana começava a desequilibrar financeiramente todas as áreas do entretenimento e os estúdios perceberam que teriam que criar alternativas para contornar a crise. O gênero gângster veio então como uma solução do chefe de produção da Warner Bros, Darryl F. Zanuck.
Eram produções baratas (filmadas em estúdio, sem muitos movimentos de câmera, contando com apenas um ator de destaque, entre outras coisas) que mantinham o estúdio longe da falência com o lucro obtido nessas realizações. Para não comprometer esse objetivo, os roteiros procuravam respeitar o Código Hays, uma lista de coisas que não deviam aparecer em um filme (como, por exemplo, mostrar cenas de crimes) para que grupos conservadores e religiosos não organizassem boicotes às produções.
Nos anos 1920, Will Hays, da Motion Picture Producers and Distributors of América (MPPDA), a pedido dos próprios estúdios trabalhou para amenizar a abalada imagem, devido a escândalos, da indústria cinematográfica. No final dos anos 1920, em conjunto com o editor de jornal Exhibitors Herald-World, Martin Quigley, e um representante da Igreja, o padre Daniel A. Lord, foi apresentado um código de produção que ficou conhecido como Código Hays. Ele servia como uma forma de auto-censura da indústria cinematográfica a fim de contornar a forma liberal que alguns temas eram abordados nos filmes, como a falta de emprego, o aumento da exclusão social e criminalidade, algo que chocava o conservadorismo religioso.
Embora a Associação dos Produtores de Cinema tenha reconhecido a proposta já no final de março de 1930, a sua aplicação só viria a acontecer com maior rigor quando a Liga de Decência Católica Romana dos EUA liderou um movimento popular que exigia a moralização das produções hollywoodianas. Mesmo assim, o código exerceu forte influência nas produções realizadas nesse período, entre as quais “Inimigo Público” e “Scarface”.
O Código Hays esteve em vigor até os anos 1960, quando foi trocado pelo sistema de classificação por faixas etárias, abrangendo as variadas possibilidades de produtos e mídias do cinema, teatro, vídeo doméstico, televisão aberta e fechada e “futuros sistemas de transmissão de dados não imaginados ainda”.
Em “Inimigo Público” também houve passagens censuradas e retiradas. Comparando a extensão original do filme que era de 96 minutos, com seu relançamento dez anos depois (1941), que tinha a duração de 83 minutos, houve uma redução de treze minutos, o que representa mais de dez por cento do total. O trecho cortado continha três cenas com teor sexual; uma envolvendo um personagem afeminado, e duas situações provocativas entre Matt e Mamie (os atores Edward Woods e Joan Blondell, respectivamente) e entre Tom (James Cagney) e uma mulher, numa visita a um apartamento.
A realidade que fundamenta o conteúdo do filme é a sociedade americana dos anos 1920, em que a figura do gângster passa a fazer parte da vida nas grandes cidades, como Chicago, cenário de “Inimigo Público”.
Essa figura surge nos Estados Unidos da América com a aplicação da Lei Seca, gerando muita procura por bebidas e alimentando o crescimento do mercado clandestino. Um negócio intenso de fabricação e contrabando, que oferecia grandes lucros. Ela está ligada a grupos independentes que disputavam o poder e o controle do mercado de produtos proibidos. Da máfia italiana (mob em inglês), destacaram-se os criminosos mais famosos como Al Capone, Bugsy Siegel, Frank Costello, Mickey Cohen e Ronnie Biggs. A perspectiva de dinheiro fácil fez com que os grupos dividissem entre si áreas atuação dentro do mercado, através de acordos que eram facilmente quebrados, gerando verdadeiras guerras do submundo. Nos Estados Unidos, eram conhecidas como Mob Wars.
Os grupos informais de criminosos eram chamados de gangues e sendo o gângster um integrante da gangue. É desta época o termo “crime organizado”, pois suas táticas operacionais incluíam a criação de empresas que serviam de fachada para as ações ilegais e o suborno de autoridades e policiais, tendo em vista a não interferência do poder público. Quando havia algum tipo de resistência a seus esquemas de trabalho, respondiam com intimidações, ameaças, chantagens, extorsões, agressões e até mesmo, assassinatos. A influência destes grupos criminosos abrangia diversas camadas da sociedade, como política, justiça e sindicatos.
No final da década de 1920, o cinema americano experimentava a revolução tecnológica do som. De início, concentrava-se nas vozes, na fala e no canto dos personagens, como no pioneiro “The Jazz Singer” (1927), estrelado por Al Jolson. Isto fez com que inúmeros musicais com orçamentos elevados fossem realizados, pois eram garantia de salas de exibição lotadas.
Logo, os produtores perceberam o imenso potencial desse recurso para retratar a violência urbana dos anos 1920, que passou a ser vista como um tema interessante para produções cinematográficas. Com o auxilio do som, as histórias ganharam um impacto maior, através de ruídos de carros, de trens e, principalmente, de tiros de revólver e rajadas de metralhadoras, armas usadas pelos gângsters. Isso possibilitou que o problema do banditismo urbano fosse abordado com cenas de impacto, em filmes como “O Inimigo Público”, e também em “Scarface, A Vergonha de uma Nação” (1932), de Howard Hawks.
“Scarface”, considerado um dos filmes mais representativos do gênero, e dos mais violentos da década de 1930, tendo sido o primeiro em que é usada uma metralhadora, demorou dois anos para ser lançado devido a problemas com a censura, que exigia não apenas que fosse retirada uma cena violenta (um massacre que ocorre no dia dos namorados – dia de São Valentim), mas também que ficasse bem caracterizado o caráter criminoso do personagem como uma pessoa que trilha caminhos errados por má índole e vício, ao invés da visão crítica sobre a sociedade corrupta que produzia aquele tipo de pessoa, sugerindo até uma complementação ao título do filme, que ficaria “Scarface, a Vergonha de uma Nação” (Scarface, the Shame of a Nation). Para atender a censura foram acrescentados um prólogo moralista e cenas que indicavam desaprovação pela conduta e princípios criminosos dos personagens.
À medida que esse novo gênero se consolidava, a figura do gângster começou a ser glamourizada, pois apesar de serem verdadeiros anti-hérois, eles fascinavam os espectadores. E a imagem de James Cagney acabou entrando para a história como referência da figura do gângster, graças principalmente ao papel que desempenhou em “Inimigo Público”. E foi justamente essa referência que o diretor Sam Mendes foi buscar, quando se preparou para dirigir “Estrada da Perdição” (Road to Perdition, 2002), protagonizado por Tom Hanks sobre gângsters daquela época. Por curiosidade, “Estrada da Perdição” foi produzido por Richard Zanuck, filho de Darryl F. Zanuck, produtor de “Inimigo Público”, e baseado numa proposta do neto deste, filho de Richard. Ou seja, três gerações tendo como referência Cagney e “Inimigo Público”, cujo cenário, junto com outros filmes dos anos 1930 e 1940, foram usados para reconstituir o clima da cidade de Chicago no regime da Lei Seca.
As características do filme de gângster podem ser resumidas a alguns elementos básicos, a narrativa e a técnica.
Quanto à narrativa, a trama costuma envolver laços familiares entre os criminosos, e em seguida acompanha em geral a evolução histórica de um ou mais personagens que perseguem o sonho americano de progresso financeiro, com riqueza e bem-estar. Retrata quase sempre a ascensão e queda de um personagem, desde a sua origem social humilde até ocupar posições de força econômica e poder político, conquistados às custas de atividades ilegais. É comum que, ao final, devido a desavenças e conflitos com outros personagens, o protagonista acabe isolado nessa posição de supremacia – referida como o “topo do mundo” – e caia vítima de alguma traição de antigos companheiros ou gângsters inimigos. A tensão narrativa resulta de um contraponto entre os valores do sistema marginal em que vivem – pelo qual constituem um esquema de costumes, leis próprias e modelos de conduta, que são alternativos ao regime legal oficial – e os valores mais amplos da sociedade e sentimentos comuns a todo ser humano, tais como ambição, cobiça, inveja, amor, orgulho, vaidade, dos quais não conseguem escapar.
Sob o ponto de vista técnico e estilístico, o filme de gângster usa recursos que ajudam a intensificar os aspectos de violência – pano de fundo da realidade urbana da época – e urgência de subir na vida, em um processo de conquistas rápidas e progressivas.
O uso da violência, no caso, não se refere apenas ao uso de armas e cenas de morte, mas também à crueldade no relacionamento interpessoal, como ocorre na cena clássica, já referida anteriormente, em que Tom (Cagney) espreme uma fruta no rosto de sua namorada. A velocidade, implicando ansiedade e expectativa constante, pode ser ilustrada pela solução, bastante comum, de mostrar em seqüência rápida várias manchetes de jornal falando de determinada situação ou fato, normalmente com sobreposição de imagens e um movimento constante de edições que passam do segundo para o primeiro plano da tela.
A seqüência de abertura do filme “Inimigo Público” parece combinar elementos das características acima, ao criar uma montagem de cenas de curtíssima duração, que traçam um retrato da corrupção reinante no período de infância dos dois personagens principais (Tom e Matt).
A figura do gângster no cinema norte-americano começou a mudar no final dos anos 1930, quando a sua origem criminosa começou a ser justificada, mostrando que ele não tinha nascido um bandido, e sim se tornado um. Esta nova abordagem trazia miséria e problemas na infância como a principal razão para o gângster ser o que ele é. Com isso a possibilidade de ele ser reabilitado de volta à sociedade se torna mais real, e acabaram por criar situações em que o criminoso luta pelo bem de outra pessoa, como faz o personagem de James Cagney em “Heróis Esquecidos” (The Roaring Twenties, 1939). Aos poucos, o gângster incorrigível foi dando lugar ao detetive durão dos filmes noir, mas mesmo assim seu legado nunca deixou de estar presente no cinema.
Como herança desta época, no final dos anos 1950 surge uma série de televisão estrelada por Robert Stack chamada “Os Intocáveis” (The Untouchables, 1959-1963). Esta mostra a figura do gângster pelos olhos da lei. Baseada em fatos reais, são narradas as ações do policial Eliot Ness e sua equipe na luta contra o crime organizado no auge da Lei Seca.
Esta série teve uma adaptação de sucesso para o cinema dirigida por Brian De Palma em 1987, com Kevin Costner como Eliot Ness, Sean Connery como Jim Malone (papel que lhe valeu o Oscar de melhor ator coadjunvante) e Roberto De Niro como Al Capone. No filme, o diretor faz uma referência ao cineasta russo Sergei Eisenstein, em “O Encouraçado Potemkin” (Bronenosets Potyomkin, 1925). Nesse filme, há um massacre de homens, mulheres e crianças numa grande escadaria na cidade de Odessa, em que, em meio ao tumulto, um carrinho de bebê escapa das mãos da mãe, desesperada. Em “Os Intocáveis”, de Brian de Palma, ocorre um grande tiroteio entre a polícia e os gângsters, na escadaria de uma estação de trem de Chicago, justamente quando uma mãe desce as escadas com um carrinho de bebê.
Em 1983, Brian De Palma dirigiu Al Pacino na refilmagem de Scarface (1932), na qual a historia do gângster de Chicago é transferida para a Miami dos anos 1980, desta vez como um traficante viciado em cocaína. Assim como nos filmes dos anos 1930, o filme mostra a ascensão e queda do protagonista, fechando com o seu assassinato brutal por uma gangue inimiga.
Praticamente, a grande referência do gênero pós-década de 1930 foi a trilogia “O Poderoso Chefão”, obra de Mario Puzo adaptada para o cinema. O primeiro filme foi lançado em 1972, e o segundo dois anos depois, 1974. A terceira parte só viria a ser produzida em 1990.
Uma das preocupações dos produtores, ao decidirem produzir “O Poderoso Chefão”, foi encontrar um diretor que levasse para a tela o modo de ser dos italianos imigrantes em Nova York, para conseguir maior autenticidade, mostrando com veracidade o ambiente e a convivência dos personagens.
O diretor escolhido foi Francis Ford Coppola, na época com trinta e poucos anos, e com uma carreira de oito filmes realizados entre 1960 e 1969, porém nenhum com grande expressão no mercado cinematográfico. Para Coppola, acabou sendo o filme que o consagrou, e permitiu que dirigisse depois grandes produções, tais como Apocalipse Now (1979), Vidas Sem Rumo (The Outsiders, 1983), Cotton Club (1984).
Na trilogia de “O Poderoso Chefão” são abordados os princípios das “famílias” da máfia italiana e sua adaptação nos Estados Unidos após a Segunda Guerra Mundial, quando o tráfico de drogas começava a crescer, até os dias de hoje.
Embora o tema seja igual às produções da década de 1930, a visão tem diferenças significativas. Enquanto os filmes daquela década retratavam o gângster como indivíduos cruéis, uma das cenas finais da terceira parte de “O Poderoso Chefão” procura mostrar o mafioso como ser humano, frágil em suas emoções, abatido pelo sofrimento da perda da filha, alvejada e morta em uma emboscada, na saída de uma ópera, na escadaria externa do teatro.
E se, nos anos de 1930, o som ruidoso das metralhadoras era uma marca dos filmes de gângster (que continuou nas décadas seguintes), é uma cena sem som que marca a dramaticidade, quando Michael Corleone (o pai, vivido por Al Pacino), ao perceber a filha morta, emite um “grito mudo” de dor.